De onde o passado nos olha?
Ou: a respeito de “Como nascem os fantasmas”, de Verena Cavalcante
Prólogo
À certa altura de Como nascem os fantasmas, romance recém-lançado de Verena Cavalcante pela editora Suma, há um pequeno entrevero entre a jovem protagonista e narradora, Beatriz, e seu amigo, Lipe, por conta de um tazo roubado.
Quem não viveu a ameaça do bug do milênio talvez desconheça a seriedade que envolvia a posse desses pequenos discos, especialmente quando saiu a aclamada coleção do Pokémon. Tazos vinham de brinde em salgadinhos ou eram conquistados por meio de seríssimas disputas de bafo, mas também podiam ser trocados por tarefas de casa, cola da prova de matemática etc. Como eu não tinha dinheiro e minha habilidade no bafo era semelhante à minha habilidade nos esportes em geral, ou seja, nenhuma, conseguia meus tazos negociando desenhos que fazia de personagens do Mortal Kombat, incrementados com códigos de fatality pescados na banca de revistas. Formei assim uma invejável coleção, sobretudo porque podia escolhê-los. Andava para cima e para baixo com meus Pokémons, e até frequentava algumas disputas de bafo para me exibir (a única função de um brinquedo besta como aquele). Numa dessas, enquanto eu me gabava dos três Pokémons lendários Articuno, Moltres e Zapdos, uma mão delinquente vinda de lugar nenhum deu um tapa na minha coleção e espalhou aquele tesouro inestimável no meio de um bando de pequenos selvagens em estado de natureza. Não sobrou nenhum. Como se não bastasse, comecei a chorar, pois, enquanto tentava recuperar ao menos os meus favoritos (Eevee e suas evoluções), alguns dos meninos que eu considerava amigos me empurravam, chutavam os tazos para longe, promoviam o caos.
Nunca consegui recolher os destroços daquela catástrofe.
Parte I
A infância é um quarto escuro onde tateamos objetos antes de lhes conhecermos o nome. Bem depois, descobrimos que essas coisas nos olhavam primeiro. Os azarados — os traumatizados — acabam descobrindo isso cedo demais. Acontece: certas infâncias já nascem fossilizadas. É dessa forma com Beatriz no livro de Verena. Seu primeiro gesto é conter um túmulo dentro da boca, e ela precisa crescer com ouvidos de morcego, atenta à romaria de vivos e mortos que buscam a avó benzedeira numa casa dividida também com o avô militar aposentado, Cristóvão, reduzido a um corpo cadavérico sobre a cama, e as ausências da mãe, Ângela, morta no parto, e do pai, jamais nomeado. É fácil se reconhecer nesse brutal peso do passado que se instala nas primeiras linhas, nessa vidinha meio doméstica e espectral, porque as crianças de Verena não aparecem como folha em branco; são palimpsestos. Assim é a vida de Beatriz, inscrita pelas vozes do passado antes mesmo de poder nomear o presente. Uma menina rasurada.
Parte II
O luto tem essa mania chata de se converter em assombro. Como nascem os fantasmas dramatiza isso na confusão entre mãe e filha. Dona Divina, a avó, projeta a filha morta na neta, e Beatriz se presta à repetição dessa memória incorporada, como se a única forma de amor possível fosse a encenação do que já se perdeu, diluindo-se, espremendo-se nas roupas da mãe, muito menores, até as costuras cederem. É uma lembrança também epidérmica, porque não se limita ao que se lembra com a cabeça, e do tato passa para os brinquedos “quase impecáveis” que Beatriz herdou de Ângela. Resíduos de uma infância nunca vivida, claro. A ferida salta do texto quando Beatriz pergunta “Será que o fantasma era eu?”, e a performance da mãe morta, tão ensaiada, alcança sua luz máxima no momento em que se queima.
Parte III
Às vezes me pergunto se todo mundo enxerga o espaço doméstico como um bicho ou se essa estranha percepção é específica de quem viveu em casas com órgãos necrosados, aqueles lugarzinhos que tinham seu fedor particular. O olfato, vocês sabem, é o sentido da memória. A cama do avô de Beatriz exala um cheiro de açougue abandonado e espalha essa quase morte pelos cômodos. Ninguém internaliza mais os espaços do que as crianças, pois toda esquina pode ser o mundo inteiro, e por isso Beatriz empresta corpo a aposentos e vai ela própria fincando suas raízes naquelas lembranças gastas de sua mãe morta, a quem ela se obriga a emular, mas também na menina desaparecida, Mayara, que incorpora em Dona Divina.
Não somos todos obrigados a seguir, acompanhar ou fugir de nossos fantasmas?
Interlúdio
Quem escreve horror precisa se permitir ser barroco, até um pouco gongorista. É assim que a gente consegue uma dessas preciosidades:
Parte IV
Entre os detritos da cultura pop dos anos 90, instalou-se aqui no Brasil o pânico midiático que já tinha se estabelecido nos EUA desde o final dos 70. A histeria foi se nutrindo de uma imprensa de suposto jornalismo popular. Uma era de repórteres suados descrevendo cadáveres na hora do almoço, do acidente dos Mamonas Assassinas em looping, do Fantástico alternando as presenças meios farsescas de Mister M e do Padre Quevedo. Foi também quando o ET de Varginha reavivou em mim um medo muito profundo que eu tinha desde a primeira vez que vi Invasores de Corpos: alienígenas. Por um longo período de tempo, tive certeza de que quase todo mundo ao meu redor, de família a amigos, era extraterrestre disfarçado. Esse terror difuso, de corpos que já não parecem inteiramente humanos, acabou servindo para perceber, muito depois, que, às vezes, é o passado quem se veste de gente.
Parte V
Nós, crias do fim do século XX, fomos os primeiros educados pela TV — isso no meio de uma guerra maluca por audiência. Reparem que nossa memória audiovisual de vez em quando devora o real. A mídia substituiu o contador de histórias, mas só parcialmente, tanto que Beatriz vive num mundo em que Dona Divina canta mitologias locais e a televisão canta a mitologia global da desgraça, justapondo a folclórica Mulher Vermelha e a Chacina da Candelária. Os medos vão ficando cada vez mais complicados e difíceis de se definir. A gente precisa ir se embrutecendo. Crescer tem um pouco de se transformar em fera por sobrevivência.
Parte VI
Não à toa, Deus entregou o inferno ao Diabo: não existe coisa pior do que a obrigação de cuidar de quem se despreza ou teme. O avô de Beatriz, um militar da ditadura que perseguia subversivos e acabou paralisado numa cama, exige cuidado diário. Encarregada de trocar fraldas e retirar larvas dos pés diabéticos do homem, Beatriz é um pouco como a gente lidando com os escombros da ditadura, cuidando de seus vestígios, às vezes até com certa revolta, mas quase sempre com resignação. Ela descobre que memórias mal sepultadas assumem rostos conhecidos e nos observam pela fresta das coisas cotidianas, transformando qualquer lugar numa zona de pouso para espectros. Quem pode falar pelos mortos?
Parte VII
Evito ficar procurando significados ocultos em nomes de personagens, embora admita que é um passatempo divertido. Mas não consigo deixar de pensar como, na Divina Comédia de Dante, a aparição de Beatriz marca a transição do conhecimento racional (representado por Virgílio) para o conhecimento místico e sagrado. Curioso que o texto de Verena coloque sua Beatriz para nos conduzir rumo ao fogo.
É preciso um certo ritual para lidar com a memória, pois racionalizá-la quase sempre é uma tarefa ingrata. Ritual implica repetição. Algumas pessoas que conheço há anos, ao recontarem sempre as mesmas histórias, acabam lançando luz sobre detalhes obscuros. Essa é a política dos fantasmas: um pouco de sabedoria e um tanto de assombro. As lembranças guardam um conhecimento próprio, e há maneiras mais ou menos seguras de evocá-las. Olhar para trás remonta o passado. Assim também as coisas em seus refúgios soterrados de repente parecem retribuir o nosso olhar: um pouco de convite e um tanto de ameaça.
A memória, vocês sabem, é um casarão de paredes finíssimas e altamente inflamáveis.
Epílogo
No imaginário infantil, o brinquedo vive e morre, como todas as coisas. Pode parecer que estou exagerando na dor que vivi no dia em que perdi meus tazos e voltei para casa absolutamente triste e humilhado, mas a verdade é que o brinquedo, ao morrer, testa na criança a elasticidade do luto, se o mundo cabe ou não cabe na falta recém-descoberta. Quando meus tazos se espalharam pelo pátio, percebi naqueles Pokémons pisoteados, virados cadáver, que a perda não se esgota na hora em que acontece. Não há objeto perdido que não volte disfarçado de alguém. Nenhum brinquedo enterrado fica onde o deixamos.
O que se repete é a estratégia do passado, usando nossa pele como máscara e falando por nossa boca. Como dizia Belchior, meu poeta conterrâneo citado por Verena em uma das epígrafes do romance, o passado não é um lugar, mas uma roupa. Beatriz aceitou, eu aceitei, outros nem percebem, não sentem nem veem, mas no final, a gente é tudo mal-vestido nessas roupas que não nos cabem mais. Ou mal-assombrado.
Grande parte das reflexões sobre memória neste texto (e em outros) eu devo a uma grande professora (ouso chamá-la de amiga) que conheci no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC, profa. Cristina Maria da Silva. De seus muitos trabalhos, recomendo começar por este belíssimo artigo.




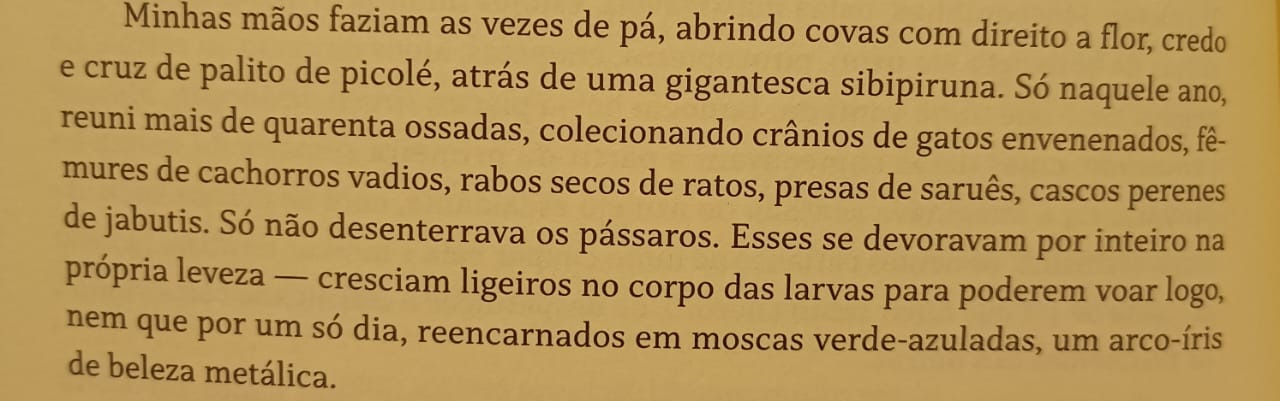
Moacir, não tenho palavras para falar sobre este texto tão importante, tão seu, e ao mesmo tempo tão meu, nós dois entrelaçados. Muito obrigada! 🩷
Um dos belos lançamentos contemporâneos de 2025. Muito acima da média. Gostei bastante.